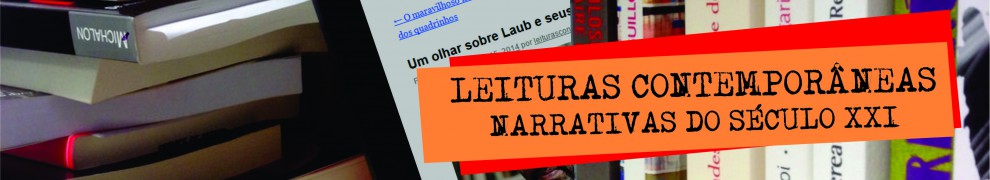Allana Emilia

Créditos da imagem: Untitled, William J O’Brien, 2019
Uma das questões já discutidas por mim em posts anteriores é a relação entre Ferrante e o Bildungsroman. Ao longo da investigação, associei a tetralogia à tradição do romance de formação alemão, ainda que, de acordo com a discussão teórica proposta por Franco Moretti, a obra da escritora italiana pareça se desviar da tradição do gênero.
A discussão proposta por Wilma Maas, em “O cânone mínimo” me fez revisitar essa reflexão. A teórica brasileira afirma que, em Bildungsromane femininos, o resultado é um fracasso em relação ao que a tradição alemã considera um bom desfecho: a integração social e a coerência em relação ao meio social. Nos exemplos femininos mencionados pela autora, ou temos a frustração da personagem em relação a sua integração social ou uma reformulação de si avessa às expectativas sociais. Ou seja, segundo Maas, em romances de formação de autoria feminina, o desfecho harmônico tradicional entre sujeito e sociedade não seria possível, já que a formação feminina avança na direção de questões de afirmação da individualidade que interferem em sua formação e na relação que mantém como mulher com o mundo exterior, o que afeta diretamente sua auto-educação e seu processo de descoberta.
No caso das narrativas de Elena Ferrante, o foco na relação entre duas personagens principais parece estabelecer um desvio ainda mais radical em relação à forma tradicional alemã. Pensando na relação entre esse esfarelamento da forma e as obras da autora italiana, retomei o conjunto de conferências escrito por Ferrante e publicadas em “As Margens e o Ditado”. Aí, Ferrante comenta sobre sua produção textual da seguinte forma:
“Desenvolvi uma narradora em primeira pessoa que, superanimada pelos empurrões casuais entre ela e o mundo, deformava a forma que havia trabalhosamente atribuído a si mesma e, a partir daquelas marcas e distorções e lesões, extraía outras possibilidades inesperadas; tudo isso enquanto avançava ao longo da linha de uma história cada vez menos controlada, talvez nem sequer uma história, talvez um emaranhado dentro do qual não apenas o eu narrador, mas a própria autora, uma pura fabricação da escrita, estavam enredados”
Vejo aí, nessa observação, uma chancela para pensar a deformação da forma tradicional do Bildungsroman em Ferrante. No entanto, me valendo aqui de uma orientação de leitura oferecida diretamente pela autora, me vejo diante de outra questão que me interessa: ao falar e escrever sobre sua própria obra, Ferrante, apesar do anonimato em que se mantém, não interfere demais na forma como a crítica lê sua produção?