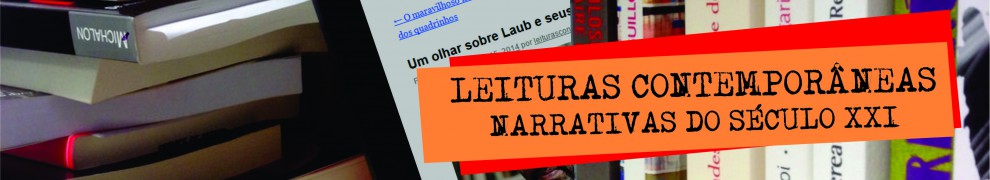Luana Rodrigues

Créditos da imagem: Claire Heggen, Théâtre du mouvement, Catherine et l’armoire, 1985. Mise en scène: Yves Marc.
Em textos anteriores aqui no blog venho pensando acerca da importância das redes sociais para a inserção e consolidação dos autores no campo literário. As redes sociais integram a esfera pública e mesmo autores que são refratários a elas, reconhecem seus efeitos (tanto os positivos, quanto os negativos) para a cena literária contemporânea. Portanto, neste texto quero continuar pensando nelas como espaço de observação das posturas autorais atuais.
Na esteira de Alain Viala, Jérôme Meizoz, em Postures littéraires: mise en scènes modernes de l’auteur vai definir o termo “postura” como uma maneira singular de o autor ocupar uma posição no campo literário. Segundo Meizoz a “postura” é algo comum a todos os escritores, mas não deve ficar limitada à análise dos elementos mais visíveis, gestuais ou superficiais da atuação de um autor como se se tratasse apenas de uma mise en scène intencional, [pois] longe de ser considerada um epifenômeno que afirma a midiatização recente e ultraja a literatura, a adoção (consciente ou não) de uma postura é constitutiva do ato criador.
Embora Meizoz afirme que a postura só é significativa se pensada em relação a três instâncias (a posição no campo, as opções estéticas e as condutas públicas), os exemplos com os quais trabalha faz pensar que a postura deriva de uma obra, configura-se primeiramente no texto. Assim, Houellebecq e Céline são dois autores citados como exemplos de posturas que se inscrevem primeiramente nos textos e que são expandidas para a atuação pública dos autores.
Mas no caso de autores que buscam a inserção e a consolidação de seu nome de autor no campo literário e que ainda não contam com uma obra consolidada e, considerando que as redes sociais funcionam como uma vitrine de exposição, divulgação e circulação dos autores e de suas obras, não seria possível pensar que a postura autoral pode se formar antes mesmo que um autor tenha publicado um conjunto de livros que possa ser chamado de obra?
A noção de “postura”, tal como pensada por Meizoz, pode me ajudar a pensar a inserção de Natália Timerman como autora na cena literária contemporânea. Timerman participa de muitas redes sociais ativamente. Sua presença oscila entre a divulgação de suas publicações e de participações em eventos de promoção de seus livros e certa abertura para a incorporação de notícias biográficas. É através das redes sociais da autora que podemos tomar conhecimento de sua relação com a crítica e com os leitores, das entrevistas concedidas, enfim de sua atuação pública na condição de autora, mas também de alguns dados pessoais e de informações sobre sua rotina privada. Muitas narrativas da autora exploram a relação dos personagens com as redes sociais e também é possível estabelecer uma aproximação biográfica entre as histórias vividas pelos personagens e a própria Timerman, em virtude de comentários de natureza mais pessoal feitos na rede pela própria autora. Essa dupla utilização das redes sociais (como tema da obra e para sua divulgação e também para exposição privada) me leva a pensar em uma postura ainda em construção, também indefinida, tanto na conduta pública, quanto na opção estética.
A tradição literária sempre considerou o autor um elemento externo ao texto. Mas o cenário contemporâneo da utilização das mídias sociais pelos autores não é um estímulo para pensar a construção de uma “postura” autoral concomitante (ou mesmo anterior?) a uma assinatura textual?