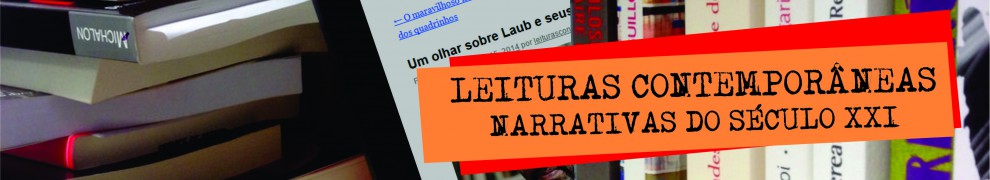Antonio Caetano

Ao ler recentemente uma entrevista dada pelo autor e editor Tiago Ferro ao Estadão, decidi escrever esse post com o intuito de expor algumas inquietações que tive. O pai da menina morta, primeiro livro escrito pelo autor, começou a ser pensado a partir de um texto publicado por Ferro na Revista Piauí, no qual descreve, comenta e elabora o luto pela morte de sua filha de oito anos. Há uma diferença crucial entre o artigo para a revista e o romance. No texto para a Piauí, os nomes próprios de sua mulher e das duas filhas são revelados, mas no romance, o narrador é “O Pai da Menina Morta” e os nomes dos demais integrantes da família não aparecem ou são modificados.
Na entrevista a que me referi acima, perguntado sobre sua resistência a considerar sua produção como autoficcional, Ferro afirma não considerar O pai da menina morta uma autoficção, tomando como base duas linhas de pensamento. A primeira linha é de que é inegável em seu texto “a volta do sujeito, aquele mesmo que os franceses haviam matado na década de 1970” (ou seja, o autor), tão em voga nos cenários de “super valorização da experiência” – considerando, dessa forma, seu romance como um exemplo dentre tantos que enfatizam não a ascensão do gênero da autoficção, mas uma “mudança de ênfase na literatura contemporânea”. A outra linha de pensamento a que Ferro se refere diz respeito a uma caracterização básica para a autoficção: a de que o nome do narrador deve ser o mesmo do autor, exposto na capa. Ou seja, Tiago Ferro nega que seu texto seja autoficcional, mas não nega que esteja “valorizando a experiência” vivida ao escrever sobre o luto da perda da filha.
Tal cenário me faz pensar na pesquisa da colega Caroline Barbosa, em que ela reflete sobre “a recusa da autoficção”, pensando o Com armas sonolentas,de Carola Saavedra. Acredito que as razões que levam autores a negarem que seus textos sejam autoficcionais podem ser as mais diversas, mas gostaria de expor algumas reflexões acerca do que poderia fomentar um discurso negacionista por parte dos autores em relação à autoficção.
Na entrevista, Ferro diz que a interpretação de sua obra como autoficcional resultaria em uma leitura necessariamente direcionada à relação dicotômica do real e do fictício, restringindo, assim, múltiplas interpretações do texto. Mas como distinguir, ou mesmo conceituar, realidade e ficção? A meu ver, são as maneiras restritas de lidar com esses conceitos, e consequentemente, com a autoficção, que restringem possibilidades de interpretação e reflexão sobre a obra.
Talvez sejam as concepções engessadas do que é autoficção, autobiografia, romance, que afastam ficção de não ficção, ao invés de considerá-las como partes complementares de todo e qualquer relato de si. Por conta da binaridade que se forma temos sempre de considerar onde começa um e termina o outro e a reivindicar e/ou rejeitar um e o outro. Talvez fosse mais interessante nos inclinarmos ao conceito de espaço biográfico na visão de Leonor Arfuch, no qual podemos considerar que a tensão entre o ficcional e o não ficcional “permite a consideração das especificidades respectivas sem perder de vista sua dimensão relacional, sua interatividade temática e pragmática”.
Já que não é possível ler a obra “simplesmente” como romance (pois o personagem é muito colado ao autor), mas tampouco se trata de um relato autobiográfico, não seria o caso de investir em uma leitura especulativa sobre O pai da menina morta que se pautasse pela ótica múltipla de um espaço biográfico de fronteiras porosas para que assim possamos explorar a ambiguidade de sua condição?