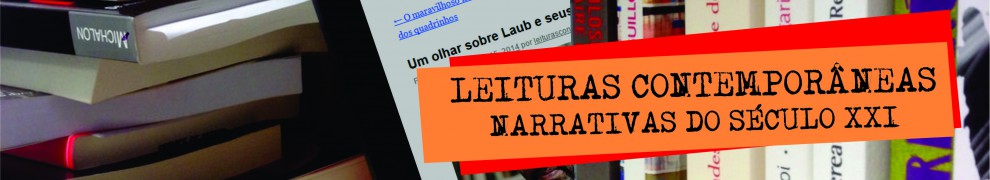Lílian Miranda

Créditos da imagem: Desfile Portela, 2024
O carnaval do Rio de Janeiro em 2024 foi presenteado pela escola de samba Portela com um desfile baseado no livro Um defeito de cor. Acompanhei a legenda na TV e ao longo do desfile já tinha decorado o refrão: “Saravá Kehinde! Teu nome vive! Teu povo é livre! Teu filho venceu, mulher! Em cada um de nós, derrame seu axé!”. A Portela repetiu o acerto de 1975 ao levar Macunaíma para avenida e escolheu o livro Um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves como inspiração para a composição do desfile de carnaval deste ano e fez um trabalho centrado na maternidade da personagem Kehinde e optou por trazer o olhar do filho e poeta Luiz Gama (Omotunde, como na história do livro) acerca de sua mãe com objetivo de retratar “a trajetória de uma negra matriarca que se confunde a tantas outras até os dias de hoje.”
A construção da história de Kehinde é uma forma de ficcionalizar o que os documentos não registram: a existência factual de Luísa Mahin, provável mãe do poeta Luiz Gama, mas também toda uma história silenciada de personagens que reaparecem resgatados do esquecimento. Os autores do enredo, Rafael Gigante, Vinicius Ferreira, Wanderley Monteiro, Bira, Jefferson Oliveira, Hélio Porto e André do Posto 7, compuseram também uma carta com a voz narrativa de Luiz Gama como se o poeta tivesse tido chance de ler e responder ao que Kehinde “documentou” para ele em Um defeito de cor. Em um dos trechos da carta, ele diz:
Luiza, minha mãe, todas as vezes que fui ao mar eu vislumbrava o manto de Iemanjá, enxergava as ondas tecer o pano que usava Durójaiyé, minha ancestral, raiz da nossa árvore. Todas as vezes que eu fui ao mar, imaginei a dor que passou. […] Nesta carta eu te chamo pelo nome, Kehinde, teu verdadeiro nome, pois sei que muitos ainda vão lê-la e espero que não te confundam. Uma mulher negra pode ser feita de muitas outras, mas não pode ser confundida, pois cada uma carrega sua própria história e devem ter o direito de contá-las. ( Portela, Carta de Luiz Gama à Kehinde, 2024)
Ao levar para o sambódromo um elemento que não está na narrativa de Gonçalves mas que, no desfile, funcionou como uma resposta à história de Kehinde e compôs uma excelente apresentação, a Portela conseguiu (re)apresentar e popularizar uma narrativa emblemática – para nossa história e para a ficção atual-, já que, poucas horas depois do desfile, o livro Um defeito de cor em uma plataforma de venda on-line e entrou para a lista dos mais vendidos do site. Além de levar a editora Record a emitir uma nota sobre a decisão de realizar novas reimpressões do livro.
Desfilaram com destaque, representando Luiz Gama, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Sílvio Almeida e os atores Lázaro Ramos e Antônio Pitanga. Em cima de carros alegóricos também desfilaram a própria autora – Ana Maria Gonçalves – e a escritora mineira Conceição Evaristo.
A escola de samba valorizou passagens importantes narradas por Kehinde, com alas representando a chegada da personagem no Brasil, a revolta dos malês, o período em que a personagem vive no Maranhão com a rainha Agontimé para aprender mais sobre os voduns de sua família, além de representações dos orixás sempre presentes na história de Kehinde. Ao final do desfile, no último carro alegórico, intitulado também como “Um defeito de cor” , desfilaram dezesseis mães que perderam seus filhos para a violência do Rio de Janeiro, exibindo fotos, camisetas e itens pertencentes aos seus filhos perdidos. Embora não tenha sido campeã do carnaval este ano, a escola ganhou o estandarte de ouro de melhor escola de samba e emocionou o sambódromo. Eu mesma, que assisti ao desfile pela televisão, pude sentir a emoção e admirar o diálogo criado entre o samba enredo e a literatura.
O samba enquanto cultura popular e gênero musical genuinamente afrobrasileiro, que por muito tempo foi marginalizado e é símbolo de uma resistência cultural em virtude das inúmeras perseguições que sofreu desde o início do século XX, alinha-se aqui à literatura para compor uma realidade imaginada, que é também uma fabulação crítica.