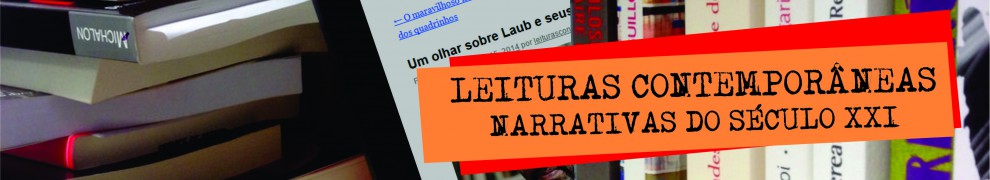João Matos

Não se pode dizer que o termo “autoficção” é algo recente. Como sabemos, surgiu pela primeira vez na quarta capa do romance Fils, publicado em 1977 por Serge Doubrovsky, numa espécie de resposta ou provocação às considerações de Phillipe Lejeune sobre os pactos de leitura (autobiográfico e ficcional). Apesar de sua vasta circulação no campo literário, ainda há uma grande imprecisão teórica a respeito do conceito, como já explorou a colega Caroline Conceição, aqui mesmo no blog. Talvez por isso o uso do termo ainda levanta “polêmicas” a respeito das obras que podem ser lidas por esta perspectiva.
Não foram poucos os autores e teóricos que se propuseram a definir os desdobramentos da proposição original de Doubrovsky que instituiu um tipo de texto híbrido entre o romance e a autobiografia. Uma dessas discussões gira em torno da tensão que o “novo gênero” cria com uma nomenclatura velha conhecida da teoria literária, o romance autobiográfico. Philippe Gasparini, constatando a existência de um gênero que já explora a mescla entre romance e autobiografia se pergunta: por que apelar para um novo termo?
Talvez seja porque o caráter ambíguo dos textos considerados autoficcionais explora também um tabu para as discussões teóricas em nossa área: a consideração do dado autobiográfico (e, portanto, de um elemento que a teoria insistiu em considerar extra-literário até pouco tempo) como parte integrante do jogo com a elaboração ficcional, mesmo que o próprio autor declare a sua intenção de conceber o texto como “ficção pura”.
Em minha pesquisa de iniciação cientifica tento observar esses impasses considerando o primeiro romance de Tiago Ferro, O Pai da Menina Morta. Aí, lemos a dolorosa reflexão do “pai da menina morta” sobre a perda de sua filha. O trágico falecimento da filha de Ferro foi noticiado em jornais de grande circulação e tematizado pelo autor em um texto escrito para a revista Piauí.
Ao declarar que a autoficção não é um termo adequado para classificar seu romance e que a associação poderia “gerar uma leitura empobrecida do livro”, Ferro não demonstra apenas uma concepção negativa do termo, mas também declara sua confiança na elaboração de um universo ficcional autônomo, capaz de distanciar o “pai da menina morta” da narrativa da tragédia pessoal vivida pelo autor.
Entendendo a recusa ou o acolhimento ao termo como um vestígio dos deslocamentos no modo como tanto a autobiografia como a ficção são compreendidas hoje, tendo a valorizar a complexidade das questões lançadas pelo surgimento do termo autoficção. Será que o hibridismo do autobiográfico com o ficcional cria uma oposição com a liberdade inventiva e formal do escritor? A autoficção nos força a lidar com o estranhamento de novas formas textuais?