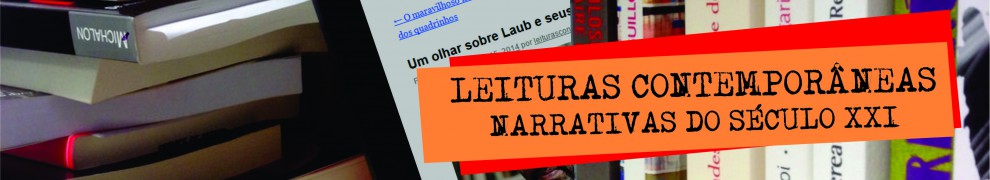Luciene Azevedo

Acho que não é preciso dizer que um dos maiores desafios para aquele que pensa as produções artísticas hoje é a presença marcante da primeira pessoa. Comentando a relação entre a poesia e a fotografia, Adolfo Montejo Navas afirma que o autor nunca está por cima da materialidade da linguagem se não quiser cair em uma ressaca de conto romântico, mas cada vez mais quando falamos de textos que, ainda que com algum hesitação, continuamos a chamar de literários é notável que o trabalho com a materialidade da linguagem não parece tão fundamental quanto o foi para o modernismo.
A descoberta moderna de que a linguagem é dúbia, vacilante e de que, na verdade, precisamos de muitas convenções para garantir um pouco de eficácia comunicativa, é quase um truísmo hoje na era da guerra das narrativas e por isso os experimentos linguísticos que marcaram as produções literárias da modernidade já não são necessários para provar a zona incerta em que se inscreve toda palavra.
A própria tradição moderna na qual muitos de nós nos formamos como leitores sempre nos alertou contra a ingenuidade de confundirmos os autores com os personagens e narradores de suas próprias histórias. Como devemos reagir, então? Meu interesse pelas formas narrativas nas quais a primeira pessoa do texto é confundida com a presença do próprio autor me leva a uma pergunta sobre a maneira como lidamos com as ficções, que durante a modernidade foi tomada quase como um sinônimo da própria ideia de literatura.
Mas se hoje, em muitas produções atuais, é possível questionar a ficcionalidade como ato imaginativo em operação, já que muitas vezes a “evocação do nome próprio do autor dá ideia de sua absoluta presença”, como afirma o teórico espanhol Pozuelo Yvancos, será possível pensarmos em uma nova disposição discursiva para o que chamamos de literatura? Será possível ler em muitas narrativas hoje um processo de desficcionalização sistemática do texto? Curiosamente, encontro o comentário num estudo de Stefano Calabrese para caracterizar a incorporação dos relatos enviados por cartas a Eugène Sue por seus leitores e que eram incorporados aos romances do autor.
Em muitas narrativas contemporâneas essa “desficcionalização” está relacionada à presença da primeira pessoa nos textos que realizam verdadeiros inventários pessoais, relatando a forma como os narradores-autores experimentaram a experiência que nos contam.
Vamos considerar o único romance escrito pela americana Lydia Davis, O fim da história. Seu título contém uma ambiguidade sustentada pelo romance, pois podemos interpretá-lo em sentido literal, (como a história terminará?), mas também podemos entendê-lo como um indicativo de que certa concepção da narrativa ficcional à qual estamos acostumados desde o século XVIII, está ausente do livro. Diria mesmo que sustentar essa ambiguidade é revelar dois procedimentos narrativos distintos: narrar ou não a história? Qual história há para contar?
O impasse da narradora sobre expor (ou não) a intimidade de sua vida amorosa é acoplado materialmente à forma anotada da narrativa, que se reescreve aos olhos do leitor como se ele estivesse lendo um palimpsesto de versões, um acumulado de rascunhos que tateiam simultaneamente um modo de contar e um final para a história. Entendo que essa descrição pode soar muito próxima à operação metaficcional tão explorada pela própria modernidade, mas não seria possível me deter neste problema no espaço deste post. Ainda que haja claramente um comentário sobre os impasses sobre o que e como narrar, é como se a narradora expusesse sua preparação, suas anotações para escrever, incorporando a descrição sobre o método de preparação para a escrita da materia narrativa, pois o que lemos é a experiência do autor escrevendo ficção e a narrativa como uma oficina ficcional dessa criação:
“tenho tentado separar algumas páginas para acrescentar ao romance e quero juntá-las numa caixa, mas não sei como etiquetar a caixa. Gostaria de escrever nela MATERIAL PRONTO PARA SER USADO, mas se fizer isso posso atrair o azar, porque o material pode ainda não estar “pronto”. Pensei em incluir parênteses e escever MATERIAL (PRONTO) PARA SER USADO, mas a palava “pronto” ainda era forte demais apesar dos parênteses. Pensei então em colocar um ponto de interrogação e deixar MATERIAL (PRONTO?) PARA SER USADO, mas o ponto de interrogação introduziu de imediato mais dúvida do que eu podia aguentar. A melhor alternativa talvez seja MATERIAL – PARA SER USADO, o que não vai tão longe a ponto de dizer que está pronto, apenas que de algum modo vai ser usado, ainda que não precise ser usado, mesmo que seja bom o bastante”.
Ao narrar a experiência de escrever um romance expondo os preparativos para escrever, a voz narrativa, embora se mantenha sem identificação, garante uma proximidade quase íntima, confessional com seu leitor. E se acionamos o alerta vermelho contra essas ingenuidades identificatórias entre narrador e autor, entre autor-narrador e leitor, o próprio texto parece não desejar manter as coisas muitos estáveis, insinuando que nem tudo o que está sendo lido é obra de ficção e que então o romance deve ser encarado como uma charada de difícil solução, como afirma a narradora. Ou ainda: eu não estou disposta a inventar muito. A maioria das coisas se mantém como era. Talvez eu não consiga pensar em algo para por no lugar da verdade. Talvez eu só tenha uma imaginação fraca.
Será que a presença invasiva do eu nas narrativas, ambiguamente aproximado aos autores das histórias, pode ser pensado como um rechaço à ficção? Estamos realmente nos cansando das ficções, como afirmou a crítica argentina Beatriz Sarlo há um tempo atrás?