Por Luciene Azevedo

Créditos da imagem: Pierre Huyghe – The Host and The Cloud
Em Diário de um ano ruim, do sul-africano John Coetzee, lemos o personagem escritor afirmar que “Ultimamente esboçar histórias parece ter se transformado num substitutivo de escrever histórias”. A ideia de obras cujas narrativas parecem oferecer ao leitor o esboço de sua composição, como se fossem anotações para uma obra futura está presente também em um romance que gostaria de comentar. Trata-se de Estação Atocha de Ben Lerner.
Lerner investe no gênero romance depois de já ter escrito três livros de poesia. A condição de poeta é apenas uma das coincidências que aproximam o narrador personagem, Adam Gordon, do próprio Lerner, que também mora em Topeka no Kansas e ganhou uma bolsa Fullbright para estudar durante um ano na Espanha. No romance, o projeto de Gordon é ambicioso: ele pretende escrever “uma longa composição poética inspirada em fatos históricos que explorasse o legado literário” da guerra civil na Espanha.
O procedimento autoficcional também franqueia a oportunidade de o romance espraiar-se em uma dicção ensaística que se desdobra em reflexão sobre a condição do poeta e da poesia, sobre o que Gordon nomeia como a “literatura agora”. Gostaria de pensar o romance do escritor americano como um laboratório, que oferece ao leitor um experimento, um conjunto de anotações sobre os modos de fazer literatura hoje, ou nas palavras do próprio autor: “estou interessado no modo como a construção de um livro ou de uma obra de arte pode ser dramatizado por esse mesmo livro ou obra de arte”.
Lerner enxerta em meio à narrativa um episódio que solicita ao leitor que se coloque na posição de quem se auto-observa no momento mesmo em que lê. (tal como o narrador que toma distanciamento de si mesmo: “Era como ver a mim mesmo olhando para baixo para mim mesmo olhando para cima”). Trata-se da conversa que o narrador mantém com Cyrus, amigo de longa data, que, em viagem ao México, corresponde-se com Gordon pela internet. Acompanhamos assim, por várias páginas, o relato de uma “experiência real”. Durante um acampamento, Cyrus é desafiado pela namorada a mergulhar em um rio do qual avistam na margem oposta dois homens que também desafiam uma mulher que está com eles a pular na correnteza. Ambos hesitam, ambos mergulham e a mulher termina se afogando. A crueza do resumo do episódio não é totalmente infiel ao tom casual com que é relatado. Apresentado ao leitor por meio da reprodução das entradas de uma conversa virtual em qualquer chat, o bate papo reproduz inclusive os delay das conexões ruins:
“Cyrus: Sim, então acabei entrando na água. A correnteza estava ainda mais forte do que eu pensava. Tinha pontos de correnteza muito forte. […]
Eu: e depois a namorada do cara pulou na água
Cyrus: espera
Cyrus: não imediatamente. Mas, tipo, agora, todo mundo estava olhando pra ela. Não sei bem como, mas tínhamos virado um grupo só. E o namorado dela tinha parado de zoá-la e agora a estava encorajando ativamente a entrar, de braços abertos, com carinho- está tudo ok, garanto, vou te proteger etc. Estávamos
Eu: Essa história vai acabar muito mal mesmo?
Cyrus: também encorajando-a, eu acho. E ela acabou pulando na água, rindo muito e gritando por causa do frio. Tudo estava bem no começo
Eu: !”
O leitor depara-se com o episódio depois de acompanhar as reflexões de Gordon sobre a “incomparabilidade entre a linguagem e a experiência” ou sobre a “divisão da experiência em inominável ou não vivenciável”, em meio às frivolidades do cotidiano do narrador, mas a passagem para a reprodução da conversa on-line é abrupta, dando a impressão que não há entrelaçamento entre os fatos e de que a narrativa avança aos solavancos, mas esse ritmo, esse movimento narrativo é o responsável pela criação de uma forma em potência que rejeita as progressões argumentativas das formas clássicas e não oferece aos episódios a forma de conjuntos precisos ou como observou com sagacidade Sheila Heti em uma resenha: “O livro parece menos um romance, uma performance pública, que algo íntimo, que permite ao leitor olhá-lo de dentro, algo como um diário ou notas para um trabalho futuro”.
Lemos um conjunto de incidentes que não permitem ao leitor uma visão global, totalizante do que está lendo, mas oferece-lhe a experiência de “ficar suspenso entre vários possíveis referentes, de deixá-los interferir uns nos outros” (2015, p.16) e nos desafiam a descobrir a estrutura por trás do acontecimento. É isso que dá a sensação de que o romance é informe, tal como Gordon fala de seus poemas, ao considerá-los “não tanto poemas quanto um acúmulo de materiais a partir dos quais era possível construir poemas”.
Assim, o leitor também é colocado à prova e testado em sua capacidade de lidar com as experiências sejam elas reais e estéticas. Esse parece o nó principal da narrativa cujo mote é a explosão de bombas na estação de trens espanhola em 11 de março de 2004. Na ocasião dos atentados, Gordon está hospedado em um luxuoso hotel e assiste às mobilizações da população com ar blasé e desinteressado enquanto presenciava a História sendo escrita, como insiste em observar. A “sensação de vida” que falta à brutalidade do real é exigida dos objetos estéticos, mas nem a vida, nem as obras dispõem de fórmulas prontas. Talvez por isso conceber a obra como se ela estivesse em preparação seja uma resposta possível para reimaginar o papel da literatura no contemporâneo.
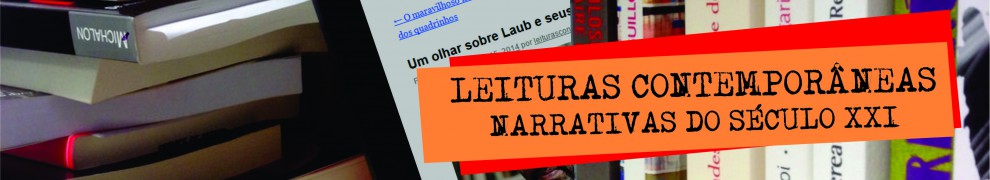
Pingback: Mata, Senhor, que a morte não faz mal | Leituras contemporâneas - Narrativas do Século XXI
Pingback: Narrativa (em meio) digital | Leituras contemporâneas - Narrativas do Século XXI