Por Nívia Maria Vasconcellos

Durante o exame de qualificação do doutorado, fui indagada se eu estava tratando o jogo entre sujeito lírico e poeta como sendo o mesmo que ocorre na teoria romanesca entre narrador e autor. Por esse ângulo, o eu lírico estaria para o narrador da mesma forma que o poeta estaria para o autor. Considero possível essa aproximação porque tanto o sujeito lírico quanto o narrador surgiram como tentativas de responder a uma mesma pergunta: quem é o “eu” presente no texto literário? Mas a resposta é que essa correspondência não é perfeita, definitiva, nem simples.
Nos estudos das narrativas literárias, são amplamente difundidos o nível ficcional de enunciação, a cargo do narrador, uma entidade ficcional, e o nível não ficcional de enunciação, posto do autor, entidade real, aquele que escreve o romance, a novela, o conto. No entanto esse desmembramento didático entre narrador e autor, apesar de parecer elucidar a questão, não a resolve. Um exemplo que revela a vulnerabilidade dessa teoria são os romances de autoficção. Eles estão aí aos montes para embaralhar tudo novamente. Este blog, inclusive, já postou textos, como Em busca da autoficção , de Davi Lara, que tentam entender a “intromissão da voz autoral” e o esgarçamento “dos limites entre ficção e realidade” presentes nas narrativas autoficcionais.
Em poesia, o imbróglio entre sujeito lírico e poeta segue também um caminho de indefinições e fissuras. Mesmo o lirismo sendo considerado tradicionalmente a expressão da subjetividade, a identidade entre sujeito lírico e poeta não é consensual. Käte Hambuger, em seu livro “A Lógica da criação literária”, lembra que há vertentes da crítica poética que consideram a enunciação lírica como algo meramente formal, uma criação da linguagem que só existe no poema e por ele. Essa negação da subjetividade confronta a ideia mesma de lirismo como exaltação dos sentimentos pessoais e estado de alma, como assume Hegel, e aparece como uma marca da modernidade inaugurada pela despersonalização baudelairiana, conforme Hugo Friedrich. Já Adorno nos diz que “o conteúdo de um poema não é mera expressão de emoções e experiências individuais”. Para ele, essas experiências só se “tornam artísticas” quando “adquirem participação do universal”, ou seja, quando se voltam para o coletivo. Collot, por sua vez, nos diz acerca de uma “ilusão lírica” e da existência de uma alteridade no exercício poético, no qual no ato da enunciação o “Eu é um outro” (Rimbaud), por isso o sujeito lírico estaria “fora de si”.
O que me parece é que a teoria narrativa e a teoria poética estão na mesma via, mas em direções diferentes. Enquanto novas apostas teóricas da narrativa apontam para uma fragilização da ideia de narrador como uma entidade ficcional distinta do autor, os investimentos teóricos da poética, por sua vez, abalam a correspondência, muitas vezes aceita, entre eu lírico e poeta.
Mas o grande impasse pelo qual atravesso para dar minha resposta não se fecha na questão de aceitar o narrador e o eu lírico apenas como elementos formais ou concordar com certa identidade deles com o eu empírico que escreve, o desafio vai além. A obra poética de Bruno Tolentino, objeto de minhas pesquisas, tensiona essa problemática porque nela o estatuto do sujeito real se dissolve, a realidade subjetiva expressa pelo eu lírico remete a outra realidade fingida.
Lara, no citado texto, fala sobre “a construção de uma persona autoral”. A minha percepção é a de que Tolentino, na década de 1990, já se antecipava na construção dessa persona autoral e a levou a níveis surpreendentes. Se narrativas do século XXI trazem o “informe biográfico completo sobre o autor”, como afirma Luciene Azevedo (“O romance e a anotação”), na poesia tolentiana esse “informe biográfico” é ele também invenção. Quer dizer, a experiência do poeta, que coincide com os enunciados poéticos e que é informada por suas cronologias e biografias oficiais, é em grande parte também fantasiada. Em Tolentino, reconhecer a identidade entre o eu lírico e o eu do poeta ainda não é admitir uma identidade entre eles e o eu empírico. O fato de uma porção de seus poemas apresentarem teor narrativo e, com isso, um narrador, agrava ainda mais a situação. Para responder a pergunta, todas essas questões precisam ser melhor esclarecidas, mas isso fica para minha próxima postagem…
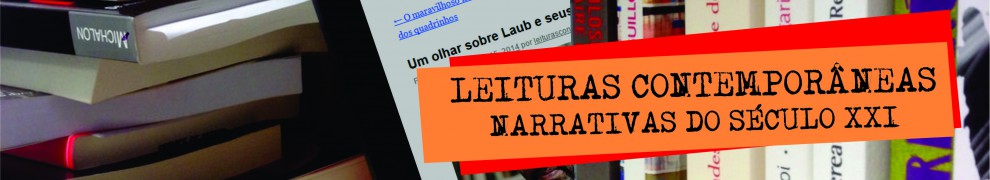
Nívia, gostei muito de ler o seu post e agradeço a menção ao meu post. Bem interessante essa correspondência entre o narrador e o sujeito lírico. Acho que, mesmo no formato reduzido do post, o modo como você aborda essa discussão, longe de oferecer respostas, ajuda a esclarecer os impasses críticos que a literatura contemporânea suscita, sobretudo no que diz respeito à tensão entre a autonomia literária e a indissociabilidade entre literatura e vida. No mais, fiquei bastante curioso pra ler seu próximo post e saber como você está lidando com essa confusão de sujeitos (eu lírico, eu empírico, narrador, autor etc.) em Tolentino.
Davi, obrigada pelo comentário, me sinto realmente numa “confusão de sujeitos” e também estou curiosa para saber qual será a minha saída… espero que outros posts do Leituras Contemporâneas, como o seu, possam me auxiliar a cumprir essa missão e tirar proveito desse impasse.
Nívia, gostei do seu texto. É interessante como você aponta conceitos da teoria narrativa e movimenta-os entre a prosa e a poesia. Com a leitura do seu texto, me atentei para o modo como costumo abordar o eu lírico e a autoria na poesia, uma vez que costumo estudar a prosa. Será que costumo fazer a transferência que você problematizou? Acho pertinente discutir essa ponte de leitura. Fiquei intrigada com essa questão e, também, com outra que você trouxe em seu texto. Como lidar com o “informe biográfico” do autor quando ele também é uma invenção? Seu texto é instigante e bem escrito, aguardo os próximos desdobramentos.
Pingback: Notas sobre a poesia contemporânea de Ricardo Aleixo | Leituras contemporâneas - Narrativas do Século XXI