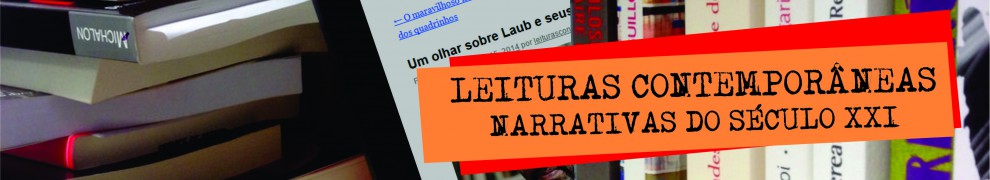Por Davi Lara
Meu primeiro contato com o autor catalão Enrique Vila-Matas foi em meados de 2008. Um amigo postara num blog em que escrevíamos sobre literatura, música e cinema uma resenha sobre Paris não tem fim, que havia sido lançado pela Cosac Naify. Anos depois, em 2010, finalmente li o livro. Lembro que o que mais marcou a leitura foi o tom de autoironia com que o protagonista conta a história de sua formação literária. Isso me provocou um verdadeiro espanto, que só se intensificou pelo jogo de ambiguidade que a narrativa estabelece em relação à identidade do protagonista, cujo nome não é informado em nenhum momento do relato, mas cujas biografia e bibliografia possuem uma série de pontos em comum com a vida e a obra do próprio Vila-Matas.
Esse espanto ou esse incômodo foi renovado, cerca de um ano depois, quando li Soldados de Salamina, livro do também catalão Javier Cercas. Embora tivesse sido publicado por uma editora do porte da Companhia das Letras e houvesse arrancado elogios de nomes como Mário Vargas Llosa, Susan Sontag e George Steiner, devo o meu conhecimento desse romance a um empreedimento da biblioteca da Folha que, em parceria com várias editoras, lançou a Coleção Ibero-Americana, dedicada a autores do universo hispânico das Américas e da Europa. Nomes como Bioy Casares, Onetti e Bolaño, que eu já conhecia e admirava, chamaram minha atenção para a coleção. Assim fui apresentado a este livro admirável que conta a história de um personagem chamado Javier Cercas durante o processo de preparação de um livro que irá se chamar “Soldados de Salamina”.
Apesar de o livro ter um pano de fundo histórico e político (o período franquista), que de certo modo modula o comentário da crítica, o que mais me chamou atenção no livro foi o fato de o protagonista “Javier Cercas”, que luta para superar uma crise pessoal, expor aos olhos do leitor a insatisfação com a escrita, com sua vida pragmática e sentimental. E o mais importante: o narrador se utiliza de um tipo de autoironia semelhante à usada em Paris não tem fim por Vila-Matas. É claro que, em Cercas, a ironia autoimplicada não é tão evidente ou esquemática quanto no livro de seu compatriota, porém, em ambos, nota-se um distanciamento em relação a si mesmo que estou tendendo a denominar de distanciamento patético, para marcar a diferença entre o patético etimológico, que implica uma união ou uma proximidade, com o significado moderno do termo.
Para resumir, talvez muito bruscamente, o que quero dizer quando falo em distanciamento patético, poderia dizer que se trata de um recurso narrativo que acentua um certo distanciamento entre o autor e o personagem. De fato, quando dizemos, hoje, que um livro ou um personagem é patético, temos em mente algo completamente diferente, senão oposto, ao que um homem do século XVII tinha ao proferir as mesmas palavras. Esse deslocamento de sentido pode ser considerado como uma mudança de postura afetiva. Ao fazermos uso do patético no contemporâneo, estamos assumindo uma incompatibilidade e uma distância com aquilo que qualificamos de patético. Em outras palavras, o afeto mobilizado pelo patético contemporâneo pressupõe a distância e a diferença entre o personagem “Javier Cercas” e o autor Javier Cercas concretizada pela exposição na própria narrativa da incompreensão dessa distância-diferença.
Por que esse distanciamento afetivo me afetou tanto? O que me provocou tanta estranheza nos livros em questão foi justamente identificar a elaboração desse distanciamento afetivo em obras que exploram a ambiguidade da proximidade entre o personagem e o autor.
No final de Paris não tem fim, por exemplo, o narrador tem orgulho de dizer que a única coisa que aprendeu durante seus anos de formação literária em Paris foi datilografar na máquina de escrever. Por isso Cassiano Elek Machado sugere, na orelha do livro, qualificar o livro, ao invés do tradicional romance de formação, de “romance de deformação”. Já o narrador Javier Cercas em Soldados de Salamina conta um período de fragilidade recente sem o mínimo de autocomplacência. Como se ele estivesse mais interessado no “salto no escuro” que advém de uma crise do que no sentimento de vazia imobilidade da crise em si.
Seja na autoironia sardônica de Vila-Matas ou na frieza irônica de Cercas, o que está em jogo é uma forma de lidar consigo mesmo que, se não é completamente nova, me parece especialmente afim ao nosso tempo. O efeito nauseante de distância/proximidade que a autoironia provoca encontra encaixe perfeito num modelo narrativo ambíguo como a autoficção que, se por um lado assume um pacto biográfico, de outro, reivindica o pacto ficcional, sem se decidir por um nem por outro. Essa forma de dispensar a si mesmo uma ironia intransitiva – isto é, sem fins edificantes – pode ser lida como sinal de uma época em que a experiência individual da identidade é menos rígida e mais fluída do que era até pouco tempo atrás. Sendo assim, o distanciamento patético na escrita de si autoficcional acaba servindo como um bom disparador de problemas pertinentes para questionar a contemporaneidade.