Por Nivana Silva
“A autoria não é uma categoria transhistórica”, destaca o crítico literário João Adolfo Hansen (1992), fazendo referência às ponderações de Michel Foucault na célebre conferência “O que é um autor?”. A afirmação em destaque indica, dentre outras coisas, que a instância autoral não atravessa a história de maneira imutável e impassível. Em outras palavras, a noção de autor tem variado no decorrer dos tempos, o que, inevitavelmente, está relacionado às transformações nas noções de literatura, obra literária, público leitor etc. Dos clássicos ao contemporâneo, é possível observar diferentes modos de funcionamento da autoria, mobilizando desde a transdiscursividade do termo (o nome do autor designando uma teoria ou tradição, por exemplo), passando pela ideia de autor-presença e sua posterior morte, até a possibilidade do retorno do autor, para situar a questão de forma bastante breve.
A respeito dessa problemática, me chamou atenção, recentemente, uma cena do filme francês L’avenir (O que está por vir, no Brasil), drama escrito e dirigido pela jovem diretora Mia Hansen-Løve e lançado este ano. Embora não apresente uma narrativa que gire em torno do tema da autoria, o longa traz uma discussão sobre a questão que pode ser representativa para pensarmos a mobilidade do termo. Trata-se de uma conversa entre Fabien Lepicard – ex-aluno da professora de filosofia Nathalie Chazeaux, protagonista da história – e um grupo de amigos alemães de uma editora “meio alternativa”, na qual lançariam uma publicação como um coletivo, sem inscreverem seus nomes próprios/nomes de autores. Vejamos:
– Sempre fomos contra a noção de direito do autor. Eu falo por mim, mas os textos pertencem a quem os lê […].
– Se sairmos do anonimato, isso será visto como traição […].
– Não podemos nos definir como um coletivo e depois voltar atrás, reestabelecendo o direito do autor. Se fizermos isso, perdemos nossa credibilidade.
–Não é negando uma realidade que incutiremos novas ideias. Estamos só nos submetendo aos estereótipos. Você se submete ao sistema que está denunciando, que é centrado na questão do indivíduo.
– E assinando você não se submete?
– Não, recuso desafios, o combate não é esse.
– Concordo com você, Fabien. Não pondo nossos nomes, não abolimos a noção de autor, só atraímos a atenção sobre nós, querendo prestígio pela postura anti-autoria. (Risos de todos) […].
A colocação inicial de um dos personagens, de que os textos pertencem a quem os lê, aponta para um momento significativo na historicidade da autoria: remete ao apagamento do autor como subjetividade da obra e a consequente atribuição ao destinatário/leitor de um papel autoral produtivo. Tal pensamento está ligado ao questionamento da noção romântica de autoria – da presença original do artista, unidade criadora na obra – e pode ser encontrada na famosa afirmação de Roland Barthes de que o autor precisa morrer para o leitor nascer.
Acredito, contudo, que o posicionamento do grupo de amigos esteja menos relacionado a uma explícita filiação teórica com as proposições barthesianas e de outros teóricos que também problematizaram a presença do autor, do que a uma certa radicalidade ligada ao modo de vida de Fabien e de seus companheiros, que querem escrever suas teses, além de discutir política e filosofia, longe da vida urbana, das asfixias do capital e, ao que parece, longe da ideia de autor como “propriedade privada e direitos autorais”, para citar Hansen novamente. Mas, se sairmos da película e voltarmos, especificamente, para a autoria na contemporaneidade, poderíamos dizer que os textos pertencem a quem os lê?
Talvez seja um tanto radical pensar dessa forma hoje, afinal de contas, a destruição da presença autoral é revista no contemporâneo. Observamos, cada vez mais, autores que, muito longe de estarem mortos, têm consciência, e participam ativamente, do processo no qual estão imersos. Considere-se, de um lado, a performance midiática desses sujeitos que, não só estão em feiras e festas literárias durante o ano, mas, diariamente, deslocam-se do texto impresso e digital para as redes sociais (ou partem delas para a obra) e fazem uso dessas ferramentas, seja para divulgação do trabalho, seja como uma extensão/suporte ficcional dos seus livros. Do outro, a aparição da voz autoral como registro de experiência ou inscrição do real, o que, como bem colocado no último post escrito por Davi Lara, “força a forma do romance de dentro”, sinalizando uma tendência contemporânea.
Diante desses movimentos, é possível levantar a hipótese de que as aparições da figura autoral podem afetar os protocolos de leitura de um público cujas múltiplas interpretações e atribuições de sentido daquilo que leem são, de alguma maneira, guiadas pelas manifestações, diretas ou indiretas, do autor junto à obra. Tudo isso compreende apenas uma das transformações atinentes à noção de autor, transformação essa que, além de estar imbricada às modificações em torno da literatura, do leitor e da própria forma do romance, como já dito, tem consequências diversas e possibilita reafirmar que a autoria não é uma categoria transhistórica.
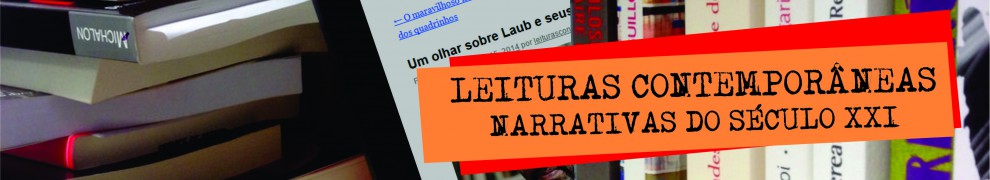
Oi, Nivana! Em primeiro lugar, parabéns pelo texto, porque é muito bom.
Tenho duas colocações para fazer. Primeiro, é interessante pensar a projeção do escritor nas feiras/festivais; há quem diga (uma visão marcadamente negativa, claro) que se trata mais de um “grande circo” em torno da figura autoral do que na promoção de um debate literário propriamente dito ou mesmo das obras dos autores ali presentes. Em se tratando desses eventos literários e sem esquecer a presença do artista, as perguntas que ficam no ar são: será que é possível formar leitores através das discussões? Realmente vende-se? A presença do escritor nas feiras acaba por reverberar mais, rende frutos e influência para si, em sua própria esfera profissional do que na social, para a comunidade de leitores?
A segunda colocação é que o engajamento dos autores nas redes sociais revela-se uma importante (embora não obrigatória) ação que mostra um pouco da dinâmica, das estratégias para se divulgar a si enquanto figura pública e artista na contemporaneidade, além de servir como canal e suporte para a promoção das suas publicações (como, por exemplo, liberar ao público pequenos trechos dos livros que virão). Para mim, isso tudo só reforça o que você diz no texto: observamos certo “retorno do autor” definitivamente não como uma possível origem, mas talvez como essa personalidade multimidiática presente na cena pública para além da literária.
Olá, Nivana. Primeiramente gostaria de te agradecer pelo excelente texto e pela possibilidade de diálogo em torno de algo tão caro a nós: o conceito de autoria e seus desdobramentos. Lendo e relendo alguns textos acerca da ideia de autor, muitas questões tem surgido, principalmente a reverberação do que é um autor nos dias atuais e como essa concepção afeta os protocolos de leitura do texto literário. Ao proclamar a morte do autor Barthes reconfigurou esses protocolos quebrando assim o elo da leitura do texto à uma ideia de origem e da busca do biografismo do autor para entendimento da obra. Bem, ainda hoje, ao lermos um texto literário esse mesmo protocolo, inaugurado lá com Barthes, é acionado: nós,ditos leitores especializados, tomamos uma determinada postura ao ler literatura, sabemos que o texto é ficcional e por mais relações que tenha com a ‘realidade real’ rs, e recorra a biografia do autor, devemos manter o olhar desconfiado. O inquietante para mim hoje, é pensar nessa relação do autor e a construção do texto ficcional e consequentemente o modo em que afeta o protocolo de leitura sob esses novos projetos: há, nos dias atuais, uma tendência enorme da presença do autor, não do modo que era solicitado antes de sua morte, mas parece que apresenta-se de outro modo. O que quero dizer é: o leitor continua vivo, e a concepção de autor como via para explicação de obra morreu, embora a morte do autor tenha sido reconsiderada através da ideia do retorno do autor, a biografia não determina a leitura em interpretação única, através de uma intenção autoral, mas, reconfigura certos protocolos, e expande para outros meios: assim como fez Lísias com Delegado Tobias em seu facebook,que embaralhou as peças, e deixou o leitor escolher se quer jogar ou não.
Pingback: Em busca da ética de escrita contemporânea | Leituras contemporâneas - Narrativas do Século XXI
Nivana, o post dá pano pra manga pra muita reflexão, como vimos aí nos comentários. Acho que a questão mais inquietante diz respeito ao protagonismo da figura do autor no cenário contemporâneo. Se pensamos nos termos do “design de si”, tal como cunhado por Boris Groys, podemos também entender os autores como “pessoas desenhadas artisticamente”. O Alemão está falando do contextos das artes, mas se consideramos iniciativas performáticas como as de Lísias e mesmo a ideia das “palestras performáticas” desenvolvida por Paloma Vidal (http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/em-obras-ciclo-de-palestras-performaticas), acho que a discussão fica mais interessante, rompe a discussão sobre o campo (autor é mais importante que a obra) e cria uma alternativa que supera a crítica da superexposição mercadológica.