Por Luciene Azevedo

Yuri Firmeza, “Vida da minha vida”, 2011, video-instalação.
Chama a atenção no cenário contemporâneo das artes, o incrível número de narrativas que lançam mão da primeira pessoa. Não me parece que essa incidência seja um privilégio do campo literário. Um passeio despretensioso pela cena atual dá a dimensão de como o eu, a narrativa de si, é proeminente em vários estratos de nosso contemporâneo.
No cinema, Los Rubios (2003) da argentina Albertina Carri ou mesmo o brasileiro Santiago (2007) de João Moreira Salles, nas experiências teatrais de Vivi Tellas e de seu Biodrama, nas fotos de Francesca Woodman, ou nas performances de Sophie Calle encontramos narrativas que ficcionalizam a vida de seus autores que são também personagens das histórias.
Pensando mais especificamente na literatura é possível perceber como muitas narrativas que exploram uma dimensão autobiográfica no relato colocam em xeque o entendimento delas como romances, pois, muitas vezes, regozijavam-se com a banalidade e a trivialidade não apenas do que contam, mas também da forma como o fazem, simulando muitas vezes um conjunto de anotações que parecem preparar a escrita de uma “obra”. É possível lembrar aqui do diário-romance do autor uruguaio Mário Levrero, por exemplo: “não estou escrevendo nada que valha a pena, mas estou escrevendo” ou “só anotando coisas, mas não sei para quê”.
Assim, as narrativas assemelham-se muito a um conjunto de anotações, a textos que parecem meras anotações de si e que dão à escrita um caráter de laboratório, fazendo da figura autoral um verdadeiro curador de si e de sua própria obra. É o que parece estar em jogo se observamos a produção de David Markson ou os livros do autor americano Ben Lerner.
Basta que nos aproximemos de quaisquer dessas obras para perceber que há algo funcionando como um rascunho, como esboço inacabado de um processo que se dá a ver ainda em elaboração e que, no entanto, nos é entregue já como obra acabada e por isso a expressão “estado de estúdio”, utilizada pelo crítico argentino Reinaldo Laddaga parece servir como uma luva para concretizar o que julgo um procedimento muito presente nas narrativas contemporâneas.
Flertando com a prática da anotação, os romances parecem exceder a forma do próprio romance, expondo ao leitor a manufatura do processo de composição, a possibilidade de explorar o relato do trabalho com a manufatura da obra, revelando os andaimes da escrita e apostando na “potência dos processos contingentes e estruturalmente inconclusos”, para falar nos termos de outro crítico argentino, Alberto Giordano.
E se ainda é possível falarmos em nome da literatura, é porque talvez ela esteja sendo expandida, forçada em seus limites, por uma espécie de estética da anotação, que, tal como Barthes preconizava, apela a uma simplicidade, que, embora seja difícil de caracterizar, é marcada pelo gesto de recolha de trivialidades do cotidiano, do autor, do personagem, pela ordinariedade das vidas de escritores (não raramente autorretratados de maneira muito derrisória), pela incorporação do acaso, sugerindo uma coleção de histórias sempre incompletas que se dão a conhecer em seu estágio de montagem.
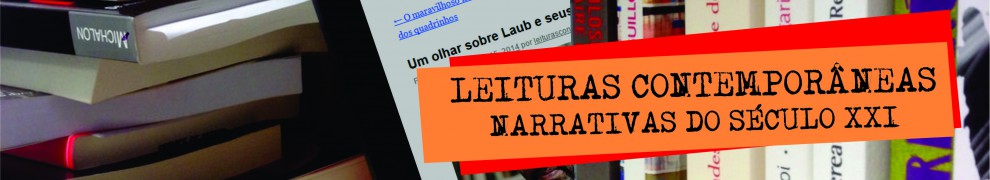
Bakhtin já falava da possibilidade de a literatura, o romance, assimilar a forma da autobiografia, do diário. Há tantas técnicas para se fazer isso. Penso nos recursos usados por Sartre em “A náusea”, por Cyro dos Anjos em “O amanuense Belmiro”, para se ficar apenas em obras que completam 80 anos. Sem dúvida, são recursos que vêm junto com a vanguarda, com o que Costa Lima chama de “mímesis da produção”: mostrar a produção do texto é parte de sua configuração estética. Isso torna o texto mais humano, sem a visão absolutista do épico, da “visão de Deus”, pois a objetividade, assim como a incompletude que se exibe como tal, é sempre ilusória. Artes como o cinema ainda insistiam nessa visão objetiva, de fora, com poucas e louváveis exceções. Agora talvez as técnicas para se mostrar o eu, que ainda não são muito originais, tragam possibilidades de realização estética ao cinema que ele ainda não conhece. Se o culto ao eu virou mania, se há autoficção demais, é algo para ser devidamente observado. Talvez uma tentativa de se colarem os pedaços do sujeito, de se tentar chegar a uma unidade, como resistência.
Olá, Edson. Obrigada por sua colaboração. Leio no seu comentário a tentativa de historicizar as práticas de si na escrita. Sem dúvida, esse é um esforço que vale a pena, mas acho ainda que o olhar que quer a todo custo submeter o presente a um enquadramento à tradição pode recalcar o que está sendo produzido hoje e reduzir sua potência a apenas uma atítude crítica blasé: “Ah, tudo isso já estava lá em Homero”, como não é incomum ouvir por aí. Não estou dizendo que seja o caso de sua posição, estou apenas comentando que essa é uma postura reativa muito comum à leitura do contemporâneo. Outra reflexão a que me levou seu post é o fato de que vc sugere que tanta fragmentação, tantos “pedaços do sujeito”, pode ser o prenúncio para a rearticulação de uma nova “unidade”, mas será que isso ainda é possível hoje em meio a nosso mundo do século XXI? Será mesmo que a expectativa é factível? Será que a resistência, e o próprio entendimento do que significam posturas de resistência hoje, também não mudaram?
Muito boa reflexão, Luciene. Ultimamente fico aqui pensando sobre estas questões ainda mais lendo alguns textos de autoria negra.
Este estilo que parece inconcluso e/ou formatado como anotações que apresenta a pluralidade de personagens sem aprofundamento de suas histórias – e não menos interessantes por isso – ou que explicita um “eu” retalhado é cada vez mais recorrente.
Carolina Maria de Jesus já nos trouxe algo aproximado neste sentido. E, agora, vejo a Conceição Evaristo em Becos da Memória, por exemplo. No cinema e em algumas séries também…
Particularmente, gosto de observar estas escritas – literárias e de outras artes – processuais e fragmentadas. Elas se conectam bem com a ideia contemporânea de “real/virtual” e de como nós, enquanto indivíduos, temos apresentado/representado nós mesmos e os outros.
Olá, Calila. Muito obrigada pelo comentário. Já fui inquirida em inúmeras ocasiões a respeito de minhas escolhas, de meus objetos de análise e estudo: “por que vc não estuda a literatura queer?”, “por que vc não estuda a literatura das minorias?” Eu nunca tenho uma resposta imediata pra essas perguntas e no entanto elas continuam ressoando em mim, como vc pode ver agora em minha resposta a seu post. O que costumava pensar é que simplesmente esses autores e obras não se apresentavam a mim e minhas mãos nunca (ou quase nunca) os procuravam…mas lendo seu comentário acho que consegui dar forma a uma intuição que me faria responder melhor: acho que não é o objeto (que, sim, claro tem importância) o fundamental, mas a maneira como se lê, fala, critica, analisa o que se lê. E dessa forma, outro colega, vc, sua pesquisa, pode manter um diálogo comigo, ou com qualquer outro que não trabalhe especificamente o que eu trabalho e pelo que me interesso e ainda assim a conversa, a reflexão se faz possível. Acho que é esse o melhor diálogo intelectual que a academia pode nos oferecer.